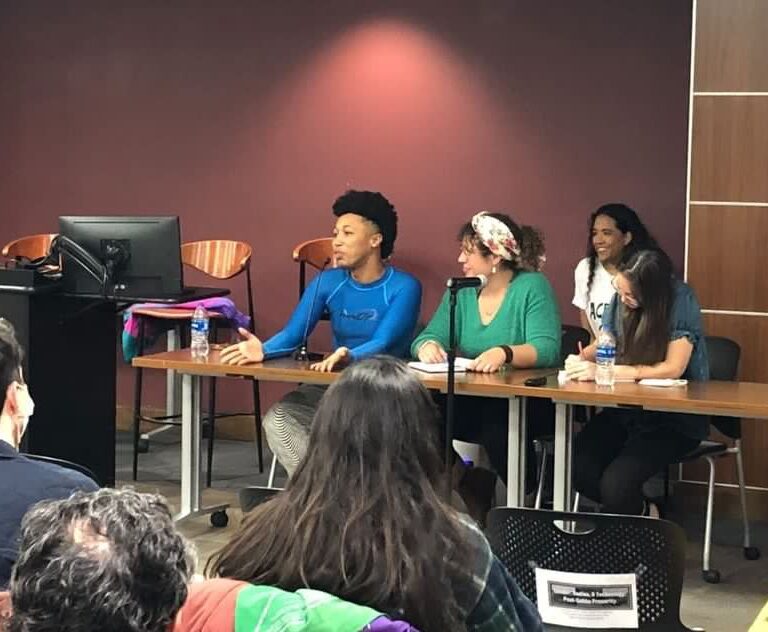Resultados já são publicados em revistas científicas; pesquisa se encontra na terceira fase, que acompanha mais de seis mil pessoas com coleta de dados
Por Hélio Euclides
Há cerca de três anos o Brasil teve o primeiro caso diagnosticado de Covid-19. No dia 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmou que um homem de 61 anos, em São Paulo, estaria infectado com o coronavírus. O que parecia algo superficial, virou uma epidemia e depois uma pandemia. A imunização se transformou numa esperança e uma corrida contra o tempo. A imagem do influenciador e morador da Maré, Raphael Vicente, em agosto de 2021 recebendo o imunizante trouxe uma alegria aos moradores com a Vacina Maré. A campanha além de duas edições de vacinação em massa, ainda conta com uma pesquisa global sobre a eficácia da vacina e variantes da doença, além de um estudo sobre sequelas pós-covid.
A pesquisa Vacina Maré é uma iniciativa da Fiocruz, em parceria com a Redes da Maré e a Prefeitura do Rio. O projeto que reúne cerca de 6.500 moradores da Maré monitorados e acompanhados por profissionais de saúde tomou proporção nacional. Um exemplo disso foi o discurso da Ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante a cerimônia de posse do cargo, no último dia 02 de janeiro, em Brasília. “Sempre tive forte relação com os movimentos sociais. Quero cumprimentar a pessoa de Eliana Souza, coordenadora da rede Maré, com quem pude realizar intenso trabalho e que considero um exemplo para o país, de como as nossas periferias, nossas favelas, quando unidas e num trabalho articulado com a academia, podem superar obstáculos. A vacinação na Maré foi um sucesso e motivo de grande alegria”, discursou.
Uma das lideranças da campanha é Luna Escorel Arouca, coordenadora do Eixo Direito à Saúde da Redes da Maré. Ela afirma que a Campanha Vacina Maré foi um elemento com significado positivo. “Muito bom ver as notícias do território que dessa vez não falavam da violência e da perda de direitos. Falou-se da saúde. Foi um impacto concreto que cessou as mortes em virtudes do covid. E o número de casos foi reduzido em 15 semanas da primeira fase. Na época estava com grande mortalidade”, conta.
A Vacina Maré se destacou por ser um trabalho em conjunto, onde as unidades de saúde tiveram um olhar maior para os equipamentos, a ciência, a sociedade civil e o poder público. A campanha é um conhecimento compartilhado, tendo um reconhecimento dos profissionais de saúde. “A campanha foi no geral um engajamento que envolveu todos, deixando as pessoas felizes. Plantou-se algo de bom na história. Teve um contexto mais amplo, com narrativa contra a crise sanitária. A Maré é grande e tem um olhar global. Serviu de base para um artigo científico, para estudo”, afirma.
A Maré tem 140 mil moradores num conjunto de favelas onde cada lugar tem a sua diversidade. Para a realização da Vacina Maré foi necessário que não viesse algo de cima, mas com a construção comunitária. “A Redes da Maré mostrou capacidade de estrutura e gestar um projeto com logística de um ato social, junto com outras instituições e coletivo. Foi o poder de mobilização para a organização local. A campanha mostra que a democracia se faz com um olhar para frente”, detalha.
A campanha fortaleceu um conjunto de ações permanentes. “O nascimento do Eixo de Direito à Saúde da Redes da Maré não se deu por acaso. Ele já existia por meio da promoção de saúde realizada pelo Espaço Normal, Maré de Direitos, Casa das Mulheres, Heróis da Dengue e outros projetos. Foi um movimento natural e orgânico, do direito à saúde e assim se deu a composição do eixo”, conclui.
Uma construção coletiva
A pesquisa começou com a coleta de dados e passou por uma reconvocação. Há profissionais que vão às casas e acompanham outras doenças e dados. “Eu vejo o trabalho de uma grande importância, porque partiu de um acontecimento histórico na Maré, quando estamos em campo fazendo visitas, nós conseguimos realizar nosso trabalho e para além, levamos informações, conversamos e estreitamos laços com os moradores”, explica Raimunda de Sousa, articuladora territorial, moradora da Vila dos Pinheiros.
Com esse trabalho é possível a permanência na pesquisa. Há continuidade com a coleta de dados que vai produzindo resultados que precisam ser cruzados. Um diferencial é ter a presença dos moradores na captação de dados. “Cada um de nós fica responsável pelo território que mora, então conseguimos articular bem porque conhecemos a nossa a área, os moradores, e também trabalhamos em conjunto com a unidade de saúde”, conclui. A parte da pesquisa que acontece na Maré deve durar, pelo menos, até o final de 2023, e avalia, entre outras coisas, a efetividade da vacina, a eficácia da dose de reforço e novas variantes no território.
Um estudo em desenvolvimento
Fernando Bozza, pesquisador da Fiocruz, sente que o trabalho da pesquisa contribuiu para o fortalecimento da instituição e no trabalho da ministra junto a outras favelas. “É uma satisfação ter a ministra acompanhando desde a origem esse trabalho. Ela tem um olhar pelo acesso à saúde que permite uma acessibilidade e prioridade. Fiquei feliz por ela citar uma ação local que se torna inspiração para uma política pública”, diz.
Todas as estratégias que recebem muitos elogios e visibilidade nos incentiva a continuarmos. Bozza percebe isso no discurso da ministra. “O programa de pesquisa está ampliado para além do covid, envolvendo outras vacinas e preocupado com baixa imunização das crianças. Ainda abrange ações de meio ambiente e os serviços de saúde. A organização do Vacina Maré impacta nas unidades de saúde, por meio do Conexão Saúde”, explica. A pesquisa se encontra na terceira fase, que acompanha mais de seis mil pessoas com coleta de dados.
A pesquisa já apresenta vários resultados, todos publicados em revistas científicas. “Há um estudo de coorte, que é uma avaliação de efetividade da vacina. Um dos estudos é sobre a queda da mortalidade com o Conexão Saúde. Há também um trabalho sobre o covid longo, ou seja, 20% dos entrevistados que confirmam até seis meses de sintomas e o tratamento da cabeça, ou seja, o estudo mental”, comenta. Para Bozza, o Vacina Maré é inovação para a ciência e para os projetos sociais. “Pode-se trabalhar em conjunto, pois é potente para mudar e gerar conhecimento. Tem muitos frutos para a Fiocruz. O Vacina Maré traz uma pesquisa de estudo de caso, com um diferencial: a maneira e a importância que é desenvolvida”, finaliza.
*Esta reportagem foi produzida por meio do projeto Sala de Redação, desenvolvido pela Énois, um laboratório de comunicação que trabalha para impulsionar diversidade, representatividade e inclusão no jornalismo brasileiro. As informações foram apuradas de forma colaborativa pelo Maré de Notícias (RJ).