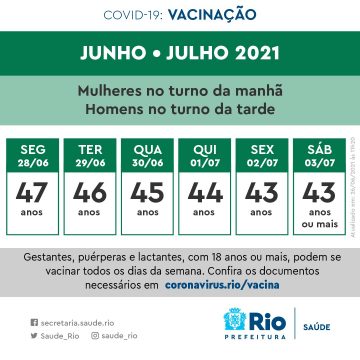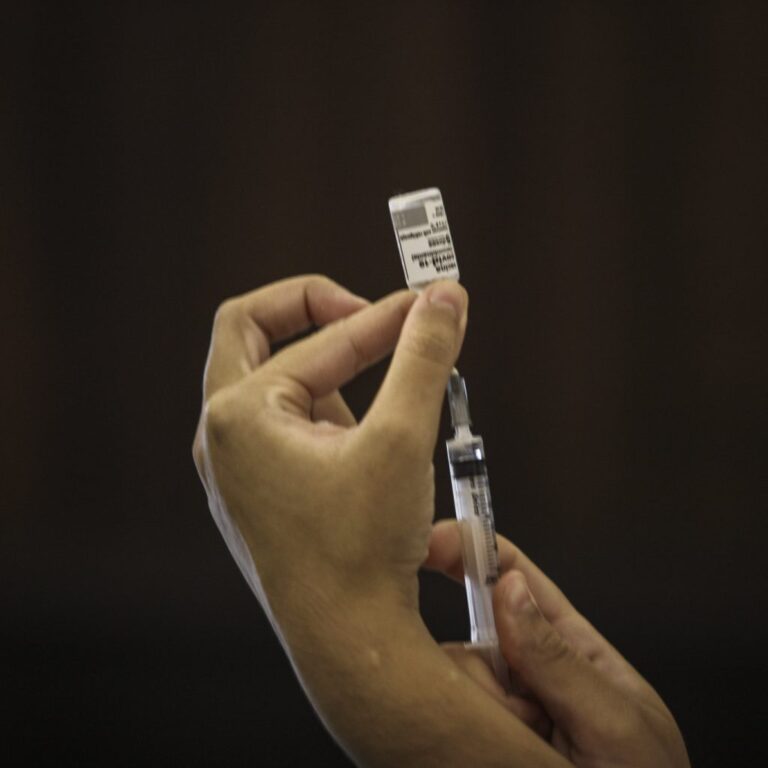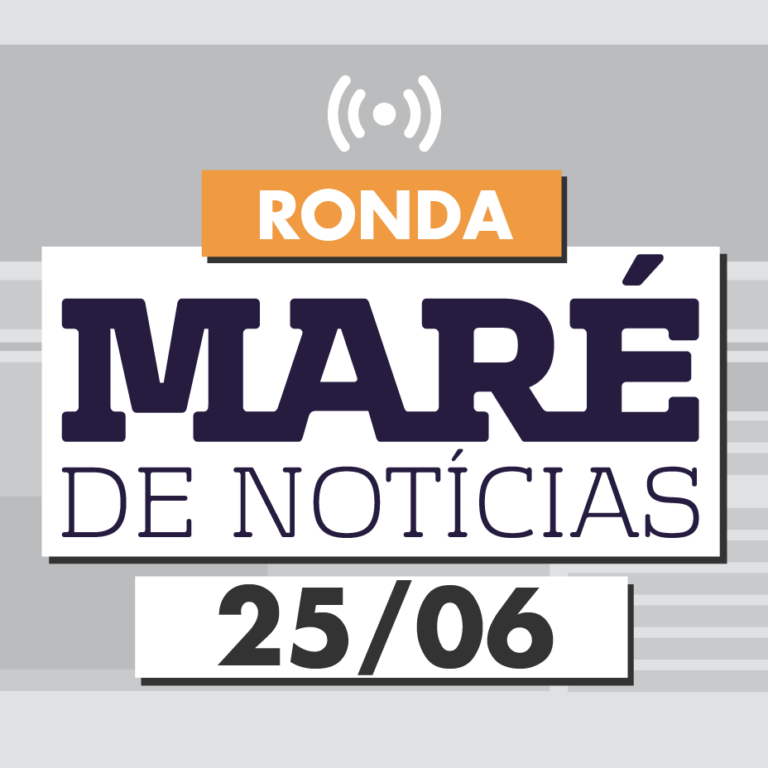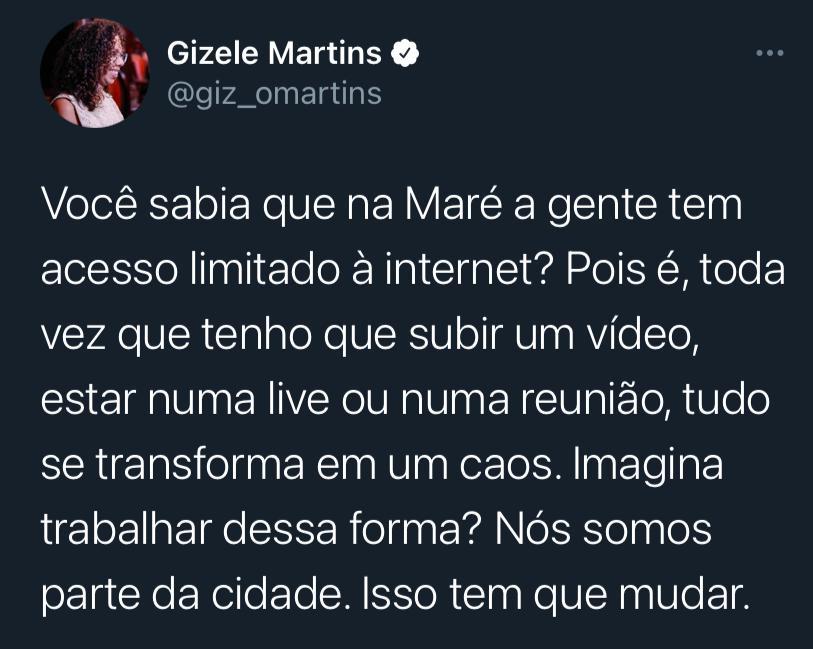Os sinais estão por toda parte, o que precisamos é percebê-los e abrirmos o canal para a sincronicidade da vida
Por Marcello Escorel em 25/06/2021 às 15h00
É sempre um desafio escrever uma nova coluna já que desde que iniciei esta jornada tenho me deparado com inúmeras indagações a respeito do meu propósito e do meu engajamento nas questões que abordo. Confesso que a medida em que ia me apropriando deste espaço fui percebendo um grande abismo entre minha vida pessoal e as opiniões por mim veiculadas. Explico: Me dei conta que desde há muitos anos havia estacionado no meu caminho de autoconhecimento. Em diversas ocasiões discorri sobre a necessidade, nos tempos atuais, de cada indivíduo se comprometer com sua própria evolução espiritual sem entregar seu empenho na busca de credos impostos de fora para dentro e sem acreditar cegamente na promessa de salvação pregada por terceiros. Fiz um “mea culpa” acordando para o fato de que eu mesmo pouco estava fazendo para me conectar com minha própria alma, meu próprio espírito e, porque não dizer, com a própria divindade que habita dentro de todos nós. Isso aliado a uma crise familiar que acirrou ainda mais minhas contradições, expondo uma faceta sombria de mim que eu teimava enxergar e enfrentar. Descobri uma grande descompensação em minhas energias, diversos miasmas, obsessores, complexos, seja lá o nome que usemos, que criavam bloqueios e atitudes negativas para impedir que eu seguisse adiante na única busca realmente relevante: procurar o Reino, o Nirvana, o Samadhi, o Atman, ou seja lá o nome que se queira dar a este estado de comunhão com o Universo e suas criaturas. Respirei fundo, deixei de querer resolver racionalmente meu problema e entreguei literalmente a Deus, ao Tempo, aos espíritos protetores e guias meu desejo de retomar o Caminho. Foi aí que comecei a receber diversos convites diretamente relacionados à questão da espiritualidade, tendo, desde então, participado de fóruns e cursos que visam ampliar esses conhecimentos que tenho usado de forma prática no meu dia a dia.
Essa minha confissão é necessária para seguir adiante. Não sei até quando. Até hoje fui inspirado por sinais: um súbito pensamento, uma notícia de jornal, uma música, um sonho, me impulsionavam e tornavam a escrita fluida e fácil. Como agora.
Meu dilema inicial para escolher o tema de hoje é que desde a coluna anterior eu me via numa encruzilhada, talvez ilusória, de querer tratar de questões sociais do momento e ao mesmo tempo falar sobre a emancipação espiritual de todos nós como indivíduos. Meu intuito era falar sobre “sincronicidade”, um fenômeno que trata de acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo sem correlação de causa e efeito, ou ainda, segundo Jung, “uma relação de simultaneidade entre um estado psíquico e uma situação externa que embora não possuam relação aparente ou estabelecida conscientemente podem alterar a compreensão da realidade.” Para ser sincronicidade é preciso que dois ou mais eventos aconteçam simultaneamente, sem relação de causalidade ou lógica de tempo e espaço, e transformem a vida de algum jeito.
Vou dar um exemplo pessoal.
Atualmente estou fazendo um curso virtual de dublagem todas as quintas-feiras. Estava com problemas de áudio porque tanto o microfone da câmera digital quanto o do fone de ouvido eram muito precários. Resolvi investir num fone bluetooth com microfone embutido e entrei todo animado no link da aula. Qual não foi meu desprazer quando o professor reclamou do som que parecia vir do fundo de um poço. Irritado me despedi abruptamente e saí da aula ainda no início. Logo me arrependi de meu arroubo infantil e lembrei-me que o professor, muito tempo antes, havia oferecido me emprestar um microfone profissional que estava encostado em seu estúdio. No dia seguinte, passeando com Jiló, meu vira-lata caramelo, remoía em como fazer para me desculpar da grosseria e ainda por cima aceitar o empréstimo do equipamento. Estava imerso nesses pensamentos quando ouvi uma buzina. Para meu espanto meu professor me acenava de seu carro parado próximo a calçada. Era minha oportunidade de imediatamente pedir desculpas pelo meu comportamento imaturo e, logo depois, ele reiterou a oferta do microfone que estou usando até hoje.
A Sincronicidade é o mecanismo que fundamenta todos os oráculos, desde o Tarô, o I Ching, os Búzios e a própria Astrologia. Desta última podemos afirmar que não são os aspectos planetários que causam os acontecimentos, mas sim que os acontecimentos ocorrem simultaneamente aos aspectos planetários, sendo estes um espelho daqueles.
Queria ir ainda mais a fundo para explicitar o funcionamento da sincronicidade e tive a ideia de perguntar ao I Ching sobre o que falar nesta coluna. O milenar Livro das Mutações é basilar para a cultura e história da China. É um livro de sabedoria respeitado e comentado, entre outros, por Lao Tsé, pai do Taoísmo e por Confúcio. Seu uso oracular é apenas uma faceta secundária. Mais adiante vou comentar a resposta, que segundo a Tradição é fornecida por “seres espirituais”, sobre o que deveria escrever, tendo em vista a encruzilhada entre o fato social e o subjetivo, a busca pessoal de auto-conhecimento e o engajamento político.
Quem se interessar por uma descrição mais detalhada do que é o I Ching recomendo recorrer ao próprio livro, lançado pela editora Pensamento, na tradução do sinólogo Richard Wilhelm e com prefácio do próprio Jung. Nota: para escrever o prefácio o grande psicólogo também consultou o oráculo para saber como o próprio Livro das Mutações gostaria de ser apresentado ao Ocidente.
A resposta do oráculo vem na forma de um hexagrama composto por seis linhas que podem ser inteiras ou partidas. Algumas dessas linhas podem sofrer mutações que desembocam num novo hexagrama.
Eis a resposta:
O AUMENTO
_______
_______X VENTO
__ __
__ __
__ __ TROVÃO
_______X
Vento e Trovão: a imagem do aumento. Assim o homem superior: quando vê o bem, o imita. Quando tem falhas, as descarta.
Aqui o I Ching está claramente falando sobre o processo pessoal que tenho vivido e que descrevi ao início da coluna.
As linhas móveis, assinaladas por um X, são aquelas que devem ser analisadas e dizem:
Linha 1 (de baixo para cima) –“ É favorável realizar grandes obras. Sublime boa fortuna. Nenhuma culpa.”
“Quando um homem recebe uma ajuda vinda do Alto deverá fazer uso desse aumento de força para realizar uma obra igualmente grande. Em outras circunstâncias ele não teria força necessária para assumir as responsabilidades implicadas num tal projeto. Libertando-se do egoísmo a grande boa fortuna será alcançada e com isso se estará, assim, isento de culpa.”
Linha 5 – “Se você tem na verdade um coração bondoso, não pergunte. Sublime boa fortuna. A bondade será realmente reconhecida como virtude sua.”
“A verdadeira bondade não é calculista nem se preocupa com gratidão ou mérito, porém age em virtude de uma necessidade interior. Um tal coração verdadeiramente bondoso já se sente recompensado ao ser reconhecido. Assim sua influência benéfica se estende sem impedimentos.”
Trocando em miúdos: o I Ching me informa que protegido pelo Alto, pelos seres espirituais, não só poderei continuar meu aperfeiçoamento pessoal como também poderei ser um meio para que outras pessoas possam usufruir das bençãos que estou recebendo.
O Hexagrama o Aumento, através das linhas móveis desemboca no hexagrama a Desintegração, onde o I Ching, depois de discorrer sobre a questão subjetiva traça um panorama de nosso momento político e social.
A DESINTEGRAÇÃO
_______________
_____ ______ MONTANHA
_____ ______
_____ ______
_____ ______TERRA
_____ ______
Essa é a época do avanço dos inferiores. A atitude correta nessas épocas adversas deve ser deduzida das imagens e seus atributos. O trigrama inferior significa a Terra, cujo atributo é a docilidade e a devoção. O trigrama superior significa a Montanha cujo atributo é a quietude. Não é possível se contrariar essas condições do tempo e por isso não é covardia e sim sabedoria, evitar a ação. Quando o infortúnio esgota suas forças retornam épocas melhores. A maldade do homem inferior volta-se contra ele próprio. Sua casa é destruída. Aqui se manifesta uma lei da natureza. O mal não é nefasto apenas para o bem, mas termina por destruir a si próprio. Pois o mal, vivendo somente da negação não pode subsistir por si mesmo.
Marcello Escorel é ator e diretor de teatro há mais de 40 anos. Paralelamente a sua carreira artística estuda de maneira autodidata, desde a adolescência, mitologia, história das religiões e a psicologia analítica de Carl Gustav Jung