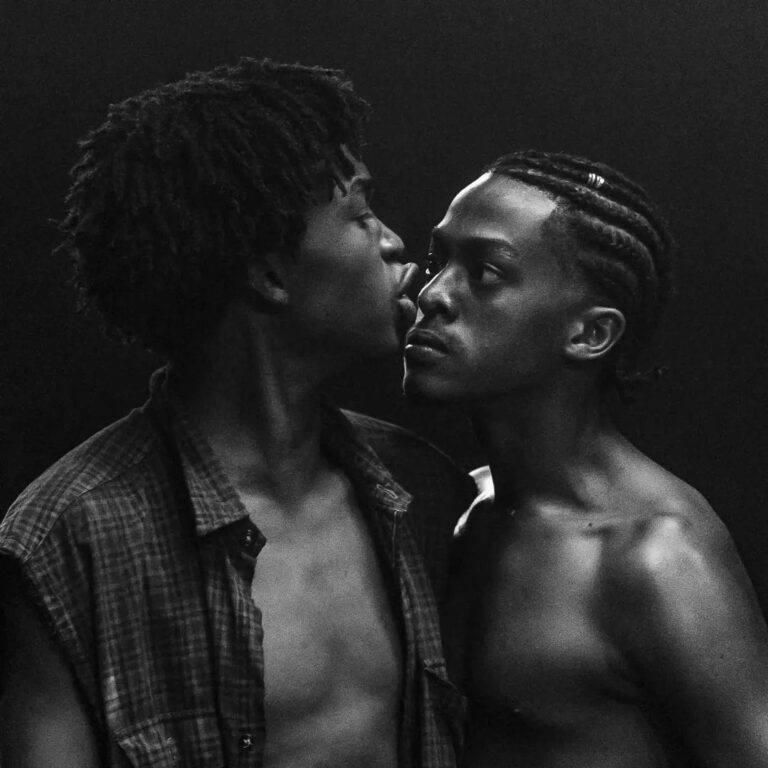IBGE volta a usar termo favela no censo após 50 Anos
Por Flavinha Cândido*
Em um marco histórico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a retomada do uso do termo “favelas e comunidades urbanas brasileiras” no Censo. Essa mudança encerra um período de cinco décadas em que expressões como “aglomerados urbanos excepcionais” eram utilizadas. Essa decisão, anunciada na última terça-feira (23), surge não apenas como uma mudança de termo, mas como um reconhecimento da importância de dar voz e visibilidade a localidades historicamente marginalizadas.
A decisão do IBGE é, em grande parte, uma resposta à demanda dos próprios moradores dessas localidades. O retorno do uso do termo “favela” está ligado à reivindicação histórica por reconhecimento e identidade dos movimentos populares que há décadas clamam por uma representação autêntica e respeitosa de suas realidades. Essa mudança é mais do que um ajuste linguístico; é um ato político que ressoa com o poder da autodefinição.
Ao incorporar o complemento “comunidades urbanas”, o IBGE não apenas reconhece a diversidade de terminologias adotadas por esses locais, mas também evidencia uma abordagem inclusiva que reflete uma compreensão sensível da multiplicidade de experiências presentes nessas áreas urbanas. Essa mudança de perspectiva não se limita apenas a uma questão de nomenclatura; ela representa um reconhecimento genuíno da riqueza cultural e da identidade dessas comunidades.
No contexto do letramento racial, essa decisão do IBGE ganha ainda mais relevância. Termos como “favela”, agora abordados com um sentido mais respeitoso, têm sido objeto de ressignificação por líderes e intelectuais que emergem desses territórios historicamente negligenciados. A Deputada Renata Souza, defensora dos direitos sociais, destaca que “chamar esses lugares pelo nome que seus moradores reconhecem é um ato de respeito e reconhecimento da sua existência e cultura”.
A jornalista Gizele Martins, ao evidenciar a relação entre negação de nome e violência simbólica, enfatizou: “Negar o nome é uma forma de apagar a memória, é uma violência simbólica que perpetua estigmas e desigualdades”. Essa compreensão profunda da influência da linguagem na construção de narrativas destaca a razão pela qual essas lideranças têm se dedicado a empoderar a linguagem, recusando-se a aceitar narrativas estigmatizadas e insistindo na redefinição das favelas como espaços de potência e resiliência.
A Escritora Carolina Maria de Jesus, conhecida por seu diário impactante, enfatizou a importância da reivindicação dos humildes: “Escrevo para que aqueles que já foram humilhados se orgulhem de sua vida. (…) Aqui começa a reivindicação dos humildes, aqui começa a valorização dos humilhados. E é uma revolução”.
A saudosa Vereadora Marielle Franco, cuja voz continua a ecoar, proclamou: “A favela não é só ausência de direitos, é território de luta e resistência”. Suas palavras destacam que as favelas não são apenas espaços geográficos, mas verdadeiros centros de cultura, resistência e identidade.
Eliana Sousa e Silva, diretora e fundadora da Redes da Maré, também destaca a necessidade de reconhecimento, ao afirmar: “Chamar esses lugares de favelas é um reconhecimento da riqueza de suas histórias e de seus moradores”. Essa citação ressalta a importância de honrar a identidade e história dessas comunidades ao utilizar termos que refletem suas próprias autodefinições.
As falas destas mulheres, Faveladas, ecoam e refletem o poder transformador dessas vozes influentes, que não apenas rejeitam a estigmatização imposta, mas também trabalham ativamente para redefinir a narrativa das favelas. Elas desempenham papéis cruciais no processo de empoderamento da linguagem, desafiando as estruturas de poder existentes e contribuindo para a construção de uma narrativa mais justa e inclusiva para as comunidades historicamente marginalizadas.
Ao dar protagonismo às vozes dessas lideranças, podemos compreender a favela não apenas como um espaço geográfico, mas como um locus de resistência, cultura vibrante e mobilização política. A resignificação do termo é um ato de empoderamento que desafia estereótipos arraigados, convidando-nos a reconhecer a complexidade e a riqueza dessas comunidades.
Neste cenário de mudanças linguísticas e reivindicações de identidade, o IBGE não apenas atualiza seu léxico, mas também participa de uma narrativa mais ampla de empoderamento e reconhecimento. Respeitar a autodefinição dessas comunidades é uma forma de letramento racial favelado, uma oportunidade de ampliar nossa compreensão coletiva e construir uma sociedade mais justa e inclusiva.
*Flavinha Cândido é idealizadora da pagina Letramento Racial Favelado, professora de Língua Portuguesa e Literaturas Pré vestibular Comunitário Estudando Pra Vencer, formada em Letramento Racial no Instituto Ayó e Assessora Parlamentar.